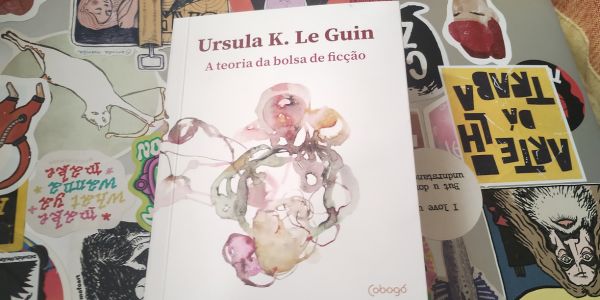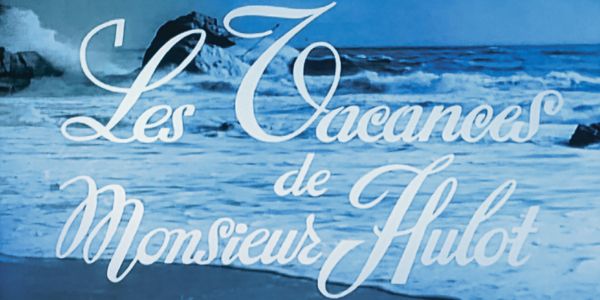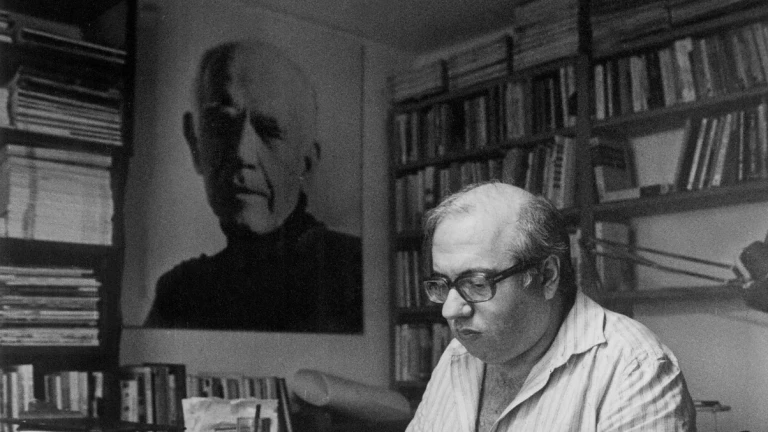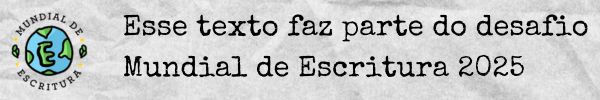Há um antigo ditado budista que ainda causa muita controvérsia e discussão: “Se encontrares Buda na estrada, mate-o”.
Há muitas interpretações para esse koan: se você encontrar alguém que se diz Buda ou tenta parecer Buda, tenha certeza, ele não é o Buda e, por isso, deve morrer; ou, caso, por um milagre, seja realmente o Buda, você deve matá-lo, pois o que interessa não é a sua existência física, mas a sua existência enquanto espírito ou ideia; ou, numa visão moderna e jocosa, se você encontrar o Buda por aí, provavelmente ele deve ser um zumbi e, portanto, para evitar que a infecção dos mortos vivos se espalhe, sim, é melhor matá-lo.
Ontem, assisti ao James Gunn encontrar o Super-Homem na estrada e matá-lo belamente.
Não é de hoje e nem surpresa discutir o gênero de super-heróis como uma espécie de mitologia moderna. Do trabalho de Joseph Campbell com George Lucas na criação de Star Wars ao livro e documentário de Grant Morrison sobre os super-heróis como os deuses modernos, essas ideias já se tornaram senso comum. Porém, estranhamente, toda vez que se lança uma obra baseada nos super-heróis dos quadrinhos há uma grita. Os fundamentalistas decenautas ou os fanáticos marvetes fazem longas discussões sobre os méritos dessas obras derivativas, tratando desde a qualidade narrativa e técnica, até uma suposta fidedignidade aos conceitos originais dos seus santos padroeiros, quer dizer, seus super-heróis preferidos.
Enquanto assistia James Gunn fazer gato e sapato, com muito amor e carinho, do último filho de Krypton, fiquei pensando por que todo esse bafafá não se dá quando as sucessivas reinterpretações dos personagens ocorrem na sua mídia de origem, nos quadrinhos.
Por acaso, estou lendo A Obra de Arte na era de sua Reprodutibilidade Técnica do Walter Benjamin, onde, provocado especialmente pela fotografia e pelo cinema, ele discute a dessacralização da arte. Ele argumenta que no momento que a obra de arte passa a ser facilmente reprodutível ela se torna ao mesmo tempo algo do plano material, perdendo a sua aura divina, e se coloca, enquanto produto, objeto da ideologia capitalista, disponível e ansiosa pela crítica do público, o que seria inimaginável em tempos anteriores.
Antigamente, o encontro com a arte, assim como o encontro com o divino, era completamente particular e fenomenológico, como uma experiência religiosa, não passível de análise racional, crítica, ou sequer compartilhamento. A arte, enquanto experiência, existia como num religare religioso, para unir o humano ao transcendente que fora trazido à terra por autoras e autores, que só serviam como receptáculos desse poder do além.
Esse foi o tempo dos oradores e contadores de histórias, da arquitetura ligada aos templos, e do teatro como parte dos rituais religiosos. A arte, enquanto manifestação mezzo humana, mezzo divina, era aberta ao público como uma oportunidade de acessar uma verdade, ainda misteriosa, mas tornada, se não compreensível, apreensível pelos sentidos, pela nossa cognição e pelas nossas emoções.
Esses momentos catárticos de encontro com a arte provocavam até sintomas físicos, como os descritos na Síndrome de Stendhal, fazendo o público, ou quem sabe, o povo devoto, sofrer de taquicardia, desmaios, confusão mental e até alucinações só por serem confrontados por toda essa beleza excessiva.
Quando a arte se tornou reprodutível, ela perdeu essa aura e passou a ser algo a ser tratado apenas no plano do racional. Criou-se a avaliação “objetiva” da arte e, oh, heresia!, o questionamento sobre o seu custo-benefício, o qual concentra boa parte da atenção das mídias especializadas. Os autores, artistas, e atores, retirados dessa posição intermediária de arautos dos deuses, se tornaram, eles mesmos, as pequenas divindades às quais se prestavam respeito e admiração e que provocavam em seus fãs, ou fiéis, os sintomas da síndrome de Stendhal, sem a necessidade de haver qualquer contato com ou menção sequer a uma obra de arte.
Porém, mesmo com toda a atividade artística dominada pelo modelo de reprodutibilidade capitalista, há alguns bolsões de liberdade primitiva. Uma delas é o formato das histórias em quadrinhos.
Justamente por ainda não serem ainda tão incensadas como arte, as histórias em quadrinhos ainda têm mais espaço para ousar em seus formatos, (des)continuidades, e soluções narrativas. Seus autores e artistas, também pouco conhecidos, somem frente às suas criações e acaba que a revista em quadrinhos, como um poeta cantando seu poema épico, pode testar diversas iterações conflitantes em busca daquele match perfeito com o público atual, seu contexto específico, e, inclusive, espaço onde se encontrará com a obra. E é nesse encontro, repleto de canaletas entre seus quadros, que a história em quadrinhos permite que os seus leitores se insiram na narrativa gerando experiências únicas e particulares.
O cinema, por outro lado, totalmente inserido na máquina de produção capitalista, tem menos liberdade. E, quanto mais caro e mais ambicioso em seu alcance, menos liberdade tem. Os roteiristas, produtores e diretores precisam, então, dar um salto do momento sagrado e ambíguo da fonte dos quadrinhos, onde tudo é válido, e a história ou revista de um mês não precisa ter nenhum compromisso com o que ocorreu na anterior, para um modelo mais consolidado, compreensível, e que transmite a uma enorme massa a mesma mensagem. Nesse encontro não há quase espaço para o público que precisa ser totalmente absorvido pela experiência proposta na tela.
Enquanto a audiência dos poetas gregos teve acesso a um milhão e um trabalhos de Hércules, para a concisão e entendimento da nossa cultura de massa, todos esses trabalhos não podiam passar do compreensível e reprodutível número de doze.
Ontem, James Gunn, com muita coragem e sensibilidade, quebrou esse paradigma e nos deu espaço para sonhar.
Abdicando da necessidade de se tornar compreensível para um público de massa, ele construiu a sua revista em quadrinhos no cinema. Em vez de ameaçar todo o universo, aumentando cada vez mais as apostas numa mesa imaginária de desastres cósmicos, James Gunn pinçou, ao seu bel prazer, de toda a mitologia disponível, o que de mais humano lhe falava ao coração e apresentou o quadrinho que queria ler com o personagem que o Super-Homem é para ele. E, assim, com essa liberdade e desprendimento dos objetivos financeiros e de continuidade, sim, o filme não precisa fazer parte de franquia nenhuma para ser incrível, ele nos fez lembrar do que o Super-Homem significa para cada um de nós, e provocou, pelo menos em mim, um ataque de Síndrome de Stendhal, que há muito não sentia, me fazendo palpitar, perder o ar, e num determinado momento de pura ligação com humano e o divino, representado pela dualidade desse Moisés moderno, chorar.
James Gunn conseguiu o que muitos não conseguiram pois fez a parte mais difícil do trabalho: ele se deixou ser, e libertou o Super-Homem das estradas em que os estúdios insistem em aprisioná-lo. Pois o Super-Homem não é uma propriedade intelectual que vive em papéis, celuloides, ou servidores, mas uma ideia, uma sensação, e uma verdade que pertence aos nossos corações.
Ontem, James Gunn abriu o Super-Homem do seu coração para nós e nos permitiu libertar o Super-Homem que existe nos nossos. Obrigado, Gunn, por ter matado a divindade que vinha pela estrada e fazê-la renascer mais uma vez humana e divina como sempre acontece ao abrirmos uma revista em quadrinhos.