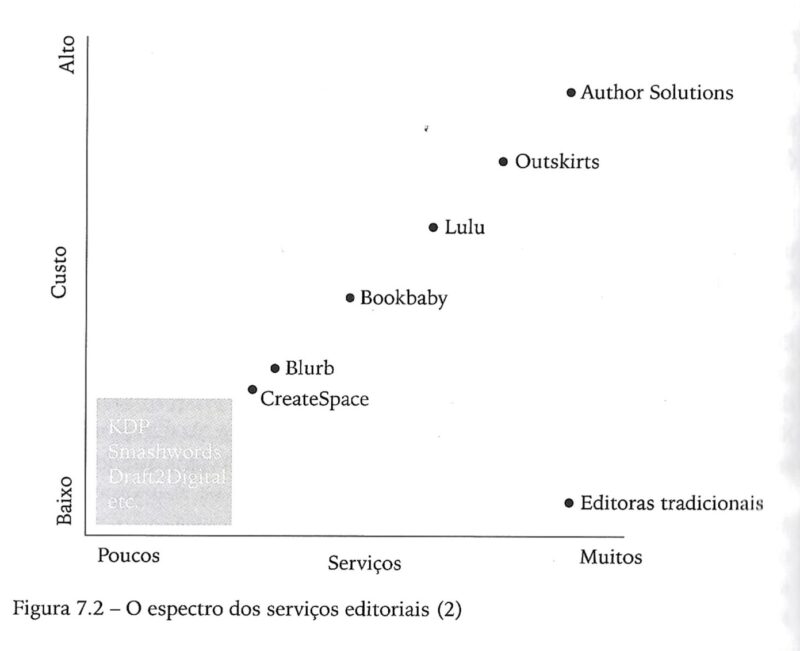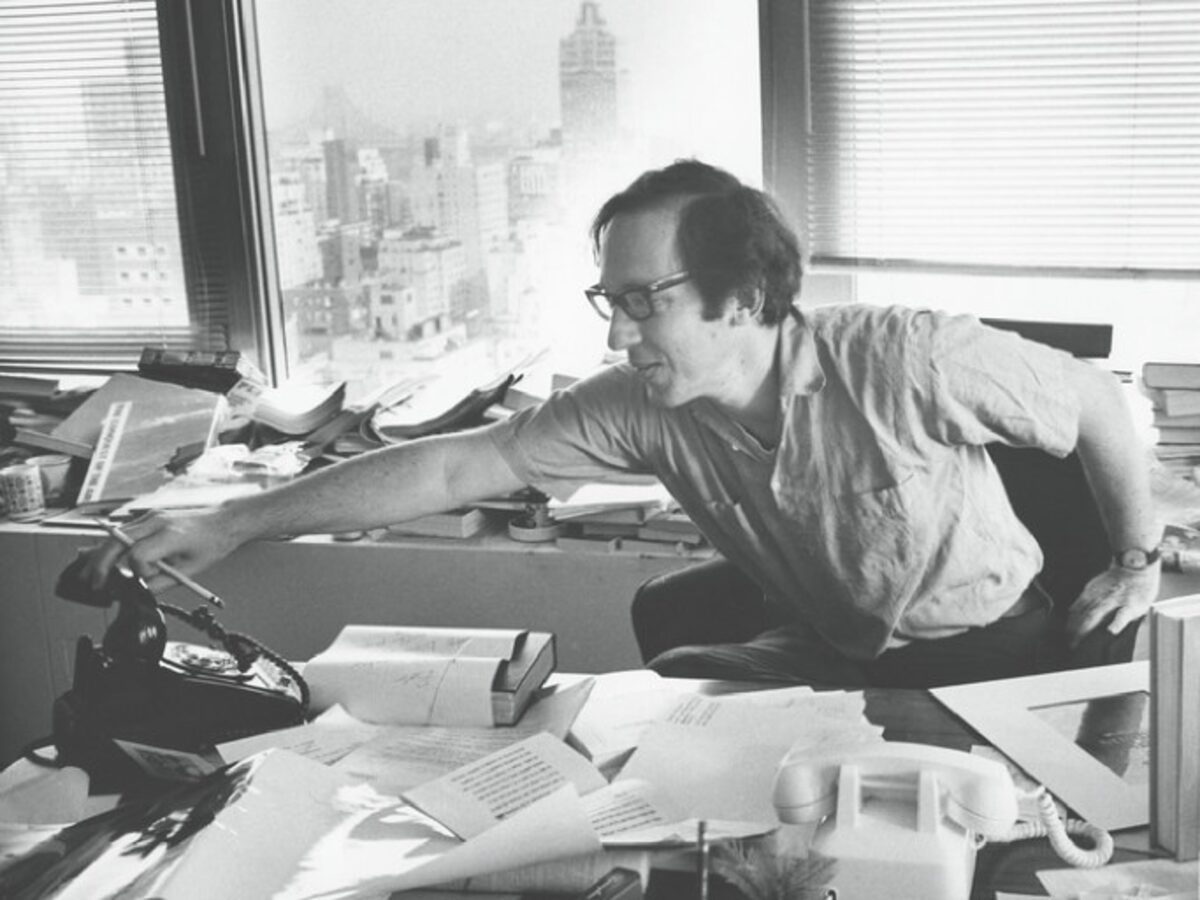Quando São Jerônimo recebeu a missão de revisar o novo Testamento a partir dos textos gregos para garantir que a palavra de Deus não fosse desvirtuada, nunca imaginaria que, séculos depois, discussão similar a qual se envolveu estaria se dando a respeito de personagens voadoras, vestidas de collant, que soltam raios pelos olhos.
As histórias em quadrinhos de super heróis, como uma nova mitologia, e, segundo alguns, uma protorreligião, requerem uma atenção a seus versionamentos e traduções próxima a qual se dispensa a textos sagrados. É preciso manter a coerência e o respeito a suas versões originais, mesmo considerando as suas complexas continuidades e múltiplos autores que, apesar de não serem literalmente tradutores, adaptam as criações para os contextos em que escrevem, os interesses de mercado do momento, e suas próprias subjetividades.
Pra piorar, o público alvo, impossibilitado de ter todo o conhecimento sobre os santos de sua devoção, quer dizer, sobre os super heróis dos quais é fã, tem visões e interpretações diferentes sobre os personagens e suas ambientações tornando qualquer adição ao cânone uma traição em potencial. O fã de quadrinhos, como leitor de uma Bíblia em construção, é um traído por natureza. Tudo seria mais fácil se ele entendesse que essa relação com uma obra em desenvolvimento é impossível de ser monogâmica.

Como lidar com esse tipo de fanático religioso?
Assim como foi com a Bíblia, que passou por diversas traduções e versionamentos, assombrada por textos e fragmentos apócrifos, os cânones dos super heróis ainda precisam passar por muitas versões para serem consolidados. Uma tentativa mal sucedida dessa consolidação foi realizada pelas versões cinematográficas de seus universos, que, pressionadas pelos interesses financeiros, precisou criar mais e mais spin offs, trazendo como solução para a sua incoerência crescente e intrínseca o subterfúgio dos multiversos.
O que falta ao leitor é entender que todas essas mudanças só tem uma preocupação: manter o texto sagrado mais próximo da realidade do público atual. E, por isso, todos os versionamentos e traduções são não só importantes, mas precisos, em seus dois sentidos.
Foi, assim, preciso que, para facilitar a leitura do público brasileiro, Clark e Lois fossem durante anos Eduardo Kent e Mirian Lane; foi preciso que o que conhecíamos como Xis-Men, a partir do desenho animado dos anos 1990, passasse a ser chamado de Ex-Men; foi preciso até que as versões cinematográficas da Tia May fossem progressivamente se tornando aparentemente mais jovens, apesar de ser possível que as personagens tenham idades próximas.

A evolução da tia May em suas múltiplas versões
Todas as edições, versões, e traduções, sejam de textos religiosos, quadrinhos de super heróis, ou mesmo de clássicos da literatura, irão passar por esse tipo de escrutínio, pois são consideradas obras sagradas que mantém, dentro do seus míticos originais, sentidos que não podem ser maculados. Assim, até a inclusão de uma nota do tradutor, a atualização do nome de uma personagem, ou uma nova versão de capa interferem na interpretação do leitor a respeito da obra, plantando uma semente de desconfiança que irá interferir na sua relação com ela. O leitor, como um devoto, não precisa apenas ler, entender, e se emocionar; o leitor, como um devoto, precisa crer.
Ele precisa crer que a editora, como uma igreja, comunga de seus mesmos valores e ideais. Ele precisa crer que o tradutor, como um pároco, respeita a palavra divina de Stan Lee e Jack Kirby pregando sem distorções a lição que os profetas da Marvel nos ensinaram. Ele precisa crer que, apesar de cada leitura se tornar uma espécie de tradução ou versão particular, todo o fandom do qual ele faz parte professa o mesmo credo e reza na mesma Bíblia. O leitor precisa crer, e os processos editoriais precisam, em contrapartida, respeitar essa sua fé.
Ai, meu São Jerônimo, orai por nós, os leitores não sabem o que fazem. Ou sabem?