Toda vez que ouço alguém falar em inovação, eu lembro de 2001. Não do filme, do ano. O mundo vivia na antessala de uma utopia. A Internet ainda trazia mais promessas do que ameaças; tínhamos passado incólumes pelo primeiro quase apocalipse digital, o Bug do Milênio; e a agenda política mundial era de inclusão e equalidade, acordos comerciais equilibrados, sustentabilidade ambiental e social, e paz. Era quase uma revolução francesa futurista em que os cidadãos conquistaram Liberdade, Igualdade e Fraternidade se desarmando ao invés de se armarem.
Enquanto isso, na Barata Ribeiro, entre a Siqueira Campos e a Hilário de Gouveia, eu participava também de uma pequena revolução. Junto com uma galera jovem e esperta inauguramos a Baratos da Ribeiro, a segunda loja do grupo Livreiros Associados. Diferente dos demais sebos, a Livreiros Associados tinha o seu acervo, dividido entre a Baratos, a Gracilianos do Ramo, e o depósito, totalmente digitalizado e atualizado, graças a um zip drive que circulava na abertura e fechamento das lojas na mão de um menino numa bicicleta. Além disso, a Baratos ganhava os jornais e as ainda nascentes redes pelo seu jeitão de sebo megastore, e seu estilo despojado e jocoso, enquanto se firmava como um ponto de encontro da música e da literatura alternativas.

Livros em revolução permanente
Essa identidade que, para o lado de fora parecia harmoniosa, era objeto de muitos conflitos. Esse tripé de experiência de compra, tecnologia, e hub cultural tinha interfaces e interseções nem sempre pacíficas, o que fazia os sócios discutirem intensamente sobre o que diabos era a Baratos da Ribeiro. Inclusive, nos comentários de um texto sobre a loja escrito por Rafael Lima para o Digestivo Cultural, o sócio majoritário da empreitada, o saudoso Marcelo Lachter, confessou a sua incapacidade de entender que negócio era aquele que gerenciávamos.
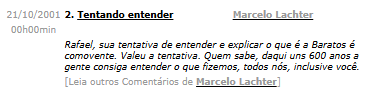
Hoje, eu sei. Éramos apenas inovadores demais para nós mesmos, mas pelo menos estávamos nos perguntando “quem queremos ser?”.
Engraçado que no mesmo quarteirão havia uma loja que fazia o movimento exatamente oposto. Ninguém sabia qual foi o negócio inicial de onde ela surgiu, mas, quando chegamos, ela era uma LAN house, papelaria e videolocadora. A impressão é que, na ânsia de parecer original e diferente, a cada nova tendência que surgia, ela buscava encaixar o que estava na moda no seu rol de serviços e produtos. Naquele mesmo ano, por exemplo, passaram a vender um sanduíche, bem gostoso por sinal, de lombo canadense que o dono da loja afirmava:
– É o sanduíche mais inovador do Rio! Duvido já ter comido algo igual por aí.
E era verdade. Não havia sanduíche igual em lugar algum, mas isso não o tornava nada inovador.
Por isso, toda vez que ouço alguém falar em inovação eu lembro de 2001, da Baratos da Ribeiro e da Papelaria/LAN House/Videolocadora/Sanduicheria. E lembro que inovação não é um atributo de produtos, serviços, ou de pessoas, mas da ressignificação consciente das relações que se estabelecem entre as identidades dos negócios e dos seus clientes.
As inovações da Baratos, por menos espetaculares que possam parecer hoje, tiveram impacto significativo justamente por falarem a um público novo e/ou jovem, bem parecido com a equipe da livraria, que precisava de um espaço despojado, organizado, e fervilhante para interagir entre si e com uma série de manifestações culturais. Criamos uma alternativa engajada e bem informada que se contrapunha aos sebos antigos e às megastores que dominavam os shoppings. A identidade do negócio era maximizada e permitia ao mesmo tempo que os clientes exercessem as suas num ambiente seguro que espelhava seus valores e crenças. O que chamavam de inovação, muitas já testadas em outros ambientes, mas não juntas, era exatamente o que diferenciava a loja de tudo mais o que havia por aí.
Já as “inovações” da outra loja do quarteirão não emplacaram pois não falavam a ninguém. Tentavam responder a tendências ou apostas de diferenciação, sem olhar para quem fazia a loja e quem consumia na loja. Assim, em pouco tempo, a loja sucumbiu por deficiência, não de inovação, mas de identidade.
A Baratos, por outro lado, saiu de Copacabana, perdeu, assim, o da Ribeiro, deixou de lado o acervo digital, e se posicionou definitivamente como um espaço de movimentação política e cultural, evoluindo a sua identidade num constante diálogo com seu contexto, com as mudanças da sociedade, e com a transformação do seu público.

Inovação é identidade e longevidade
Enfim, toda vez que ouço alguém falar em inovação eu lembro que saber quem você é, ou, como disse sabiamente Marcelo Lachter, estar pronto a testar novas identidades e relações com o respeito devido ao seu público e à sua equipe, é o que vai lhe tornar verdadeiramente inovador. As tendências vem e vão, as tecnologias brilham e se apagam, sanduíches de lombo canadense entram e saem de moda, mas o desejo de ser cada vez mais um novo você é o que vai manter o seu coração sempre inovador.

