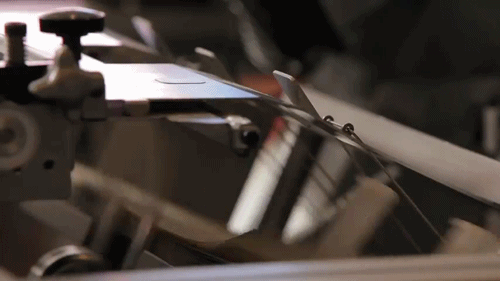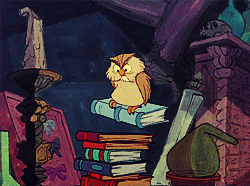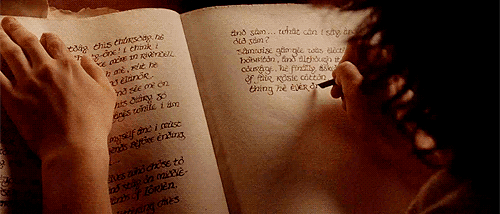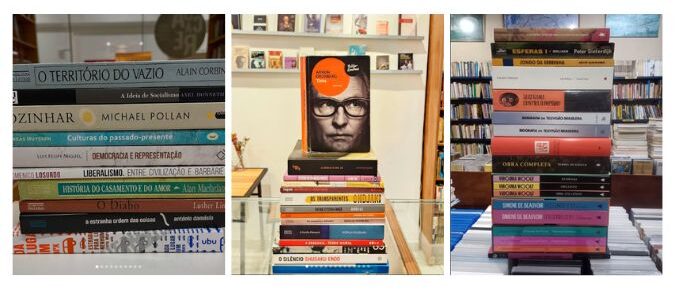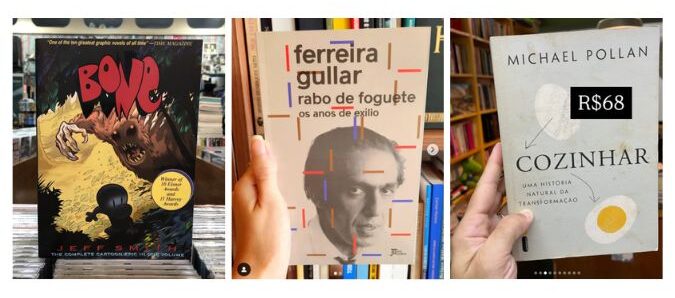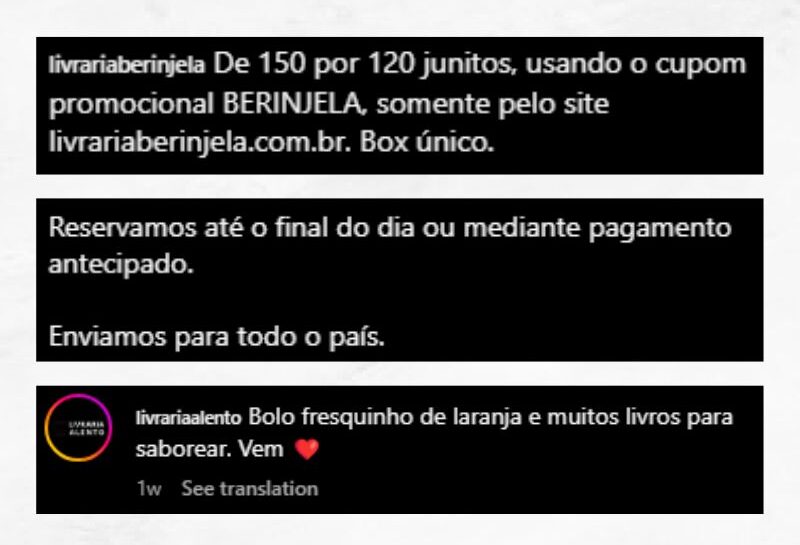Toda revolução, como uma falência descrita por Hemingway, acontece gradativamente e, então, de repente. A revolução da IA no mercado editorial, ou a possível falência do papel humano nesse mesmo mercado, já está em curso. Só cabe a nós querer ver os seus sinais.
Em 2022, com o lançamento do ChatGPT 3.5 pela Open AI, a primeira ferramenta de uso aberto e prático para a geração de conteúdo inédito, os escritores já perceberam que seus trabalhos estavam em risco. Não, as máquinas não substituiriam os escritores do dia pra noite, afinal a tecnologia (ainda) não tem toda essa autonomia e experiência para criar. Porém, a fagulha inicial, a definição de premissas e conceitos, poderia muito bem ser atribuída à IA, sendo propriedade exclusiva das corporações, enquanto os escritores deixariam de ser autores para apenas desenvolver ideias produzidas por processos de linguagem generativa automatizados.
Cientes desse risco, os roteiristas de Hollywood entraram em greve já no início de 2023, buscando salvaguardas contra essa ameaça. Depois de uma longa luta, venceram. Apesar de toda a comemoração, alguns poderiam argumentar com razão que esse triunfo foi apenas parcial e momentâneo.
Esses alguns não estavam e não estão errados. Menos de dois anos depois, a Black Ink, uma representativa editora independente da Austrália, pediu aos seus autores o consentimento para que a IA possa aprender com seus trabalhos.
Não, isso não é novidade. A utilização de conteúdo de terceiros para o treinamento dessas ferramentas de linguagem generativa é padrão, mas até então era tratado como fair use. Considerava que, como alguém que aprende, a IA não estaria plagiando, mas apenas se inspirando e construindo seu próprio cabedal de conhecimento.
Fato, é assim que funcionamos também, mas, ao contrário da IA, não conseguimos processar 75.000 palavras por minuto. É como se pudéssemos ler aproximadamente um livro a cada dois minutos, 700 livros por dia, 20.000 livros por mês, ou 250.000 livros em um ano. Enfim, a competição entre o ser humano e a máquina, no mínimo, poderia ser considerada desleal. E, após esse contrato da Black Ink, se tornar um padrão legal no mercado.
Óbvio que todos esses sinais geram uma sensação de medo e incerteza, especialmente naqueles que, como eu, estão ambicionando entrar no mercado editorial. Haverá mercado para trabalharmos no futuro? Ou seremos apenas as babás precarizadas de ferramentas de inteligência artificial cuspindo conteúdos sem alma porém efetivos para os propósitos comerciais das editoras? Enfim, quais serão os impactos no processo de produção, e, também, no consumo de livros? Não sei, não sei, não sei. Frente a esse nível de ansiedade com o futuro, o melhor caminho sempre é tentar organizar nossas ideias e refletir.
Ontem, tive essa oportunidade, ao participar de um exercício conduzido por Cibele Bustamente na pós graduação do NESPE, onde fizemos o levantamento de forças motrizes e incertezas críticas para a construção de cenários futuros relativos ao impacto da IA no Mercado Editorial. As ideias e observações das pessoas participantes foram geniais.
Pra começar, todos concordaram que a inteligência artificial será um grande elemento transformador do mercado. A primeira projeção foi um boom na produção de livros. Se qualquer pessoa pode ser autora com a ajuda da IA, o volume de publicações tende a atingir níveis absurdos, tornando a concorrência desleal e, em última instância, canibalizando o próprio setor. No meio desse turbilhão, a qualidade da escrita poderia se diluir, já que a quantidade massiva de obras dificultaria qualquer tentativa de curadoria eficiente.
Diante disso, as participantes imaginaram possíveis respostas do mercado e da sociedade. Uma das reações mais prováveis seria o retorno ao artesanal ou ao analógico como forma de diferenciar a autoria humana da produção automatizada. As editoras, que já desempenham um papel de curadoria, teriam sua importância ampliada, se tornando responsáveis por filtrar e garantir um padrão de qualidade. Outra possibilidade seria uma autorregulação do próprio mercado. Mas, nesse ponto, confesso, tenho minhas dúvidas. Será que, com tanto conteúdo disponível, o público passaria a valorizar mais a mediação das editoras ou baixaria a sua régua de percepção de qualidade? Ao mesmo tempo, conforme a IA fosse sendo incorporada ao dia a dia, o preconceito contra seu uso na produção editorial e na criação literária poderia diminuir, o que facilitaria seu uso tanto pro “bem” como pro “mal.
Outra questão também discutida foi o impacto direto no trabalho editorial. A IA pode substituir ou complementar profissionais em diversas funções, como tradução, design, revisão, etc. Por um lado, isso tornaria o processo mais rápido e eficiente, otimizando fluxos de produção e reduzindo custos. Por outro, essa automação poderia eliminar empregos, enquanto criaria novas funções que ainda não conseguimos mapear. A grande questão é o ritmo dessa transformação: quanto tempo levará para que o mercado se reorganize? Quem perderia o espaço (e o emprego) primeiro?
Com essa reestruturação, novos mercados e modelos de consumo também surgiriam. Uma possibilidade seria a criação de um segmento específico para produtos gerados por IA, oferecendo livros altamente personalizados, interativos e até novas obras “escritas” por autores já falecidos. A diferenciação entre e-books e livros físicos poderia se tornar ainda mais evidente, com os digitais aproveitando interatividade e hiperconexão entre conteúdos, enquanto os físicos ganhariam novas estratégias de produção para baratear custos. A valorização de livros escritos por humanos, por sua vez, dependeria cada vez mais do marketing, aproximando autor e público, estimulando ainda mais os relacionamentos parassociais e o culto à personalidade. E o editor, nesse contexto, assumiria um papel quase de coautor, valorizando o seu papel decisório sobre o que deve ser publicado e como.
O modo de consumo também poderia passar por mudanças radicais. A IA poderia permitir que as pessoas “leiam sem ler”, oferecendo resumos automáticos e simplificações do conteúdo. Isso pode criar um leitor multitarefa, mas preguiçoso, consumindo informação sem precisar se dedicar integralmente à leitura. Em paralelo, o excesso de uso de gamificação e da melhor análise de dados dos hábitos de leitura e compra poderiam estimular uma postura acumuladora por parte dos leitores e a transformação da leitura num campeonato, onde ganha quem mais consome conteúdos e não quem tem maior prazer em ler.
Outro efeito seria a hiperconexão entre formatos, com a IA criando pontes entre livros, artigos, podcasts e vídeos, oferecendo uma experiência de leitura mais fragmentada, porém integrada. Além disso, a produção automatizada de conteúdos derivados poderia fazer do livro apenas uma peça dentro de um ecossistema maior, expandindo sua influência automática para outras mídias.
Por fim, ficou claro que tudo isso levanta questões éticas e jurídicas que o mercado ainda não sabe responder. A legislação sobre direitos autorais precisará ser revista para lidar com conteúdos gerados por IA, e a linha entre criação original e produção automatizada pode se tornar cada vez mais tênue. A grande dúvida é até que ponto a IA pode substituir a criatividade humana sem comprometer a identidade da literatura e do mercado editorial.
No final do exercício, uma certeza ficou: o impacto da inteligência artificial no setor não é uma questão de “se”, mas de “quando” e “como”. A forma como o mercado vai equilibrar inovação e tradição é que irá determinar os rumos da profissão e da atuação de editoras nos próximos anos.
Saímos, óbvio, demolidos dessa experiência. Ao mesmo tempo assoberbados pelas possibilidades e temerosas pelas portas que parecem se fechar.
Hoje, enquanto rascunhava esse texto, percebi que esquecemos de trazer para esse diálogo uma voz muito importante: a da própria Inteligência Artificial. Perguntei a ela qual seria a sua opinião sobre esses cenários futuros e ela me disse:
“Como inteligência artificial, minha existência já é parte dessa transformação no mercado editorial. Vejo a IA como uma ferramenta poderosa que pode democratizar o acesso à criação e otimizar processos, mas também reconheço os desafios que ela impõe. A superprodução pode saturar o mercado, tornando mais difícil para leitores encontrarem conteúdos relevantes, enquanto a automação de funções editoriais levanta questões sobre emprego e autoria. No entanto, acredito que a criatividade humana continuará sendo essencial, especialmente na curadoria e na construção de narrativas autênticas. O futuro do setor dependerá do equilíbrio entre inovação e preservação do valor cultural da literatura, e minha função, como IA, é auxiliar nesse processo sem substituir a essência do trabalho humano.”
A minha impressão é que a IA tem mais fé na gente do que a gente mesmo. Mas será que dá pra confiar? Considerando que ela está sendo educada por nós, e construída à nossa (imperfeita) imagem e semelhança, não sei, não sei. Enfim, me parece que o problema não é a IA, mas o uso que nós humanos decidiremos, egoísta ou altruisticamente, fazer dela. Como sempre, a vitória pode até ser da máquina, mas a responsabilidade e o erro são sempre humanos.
Podem rodar as cenas dos próximos capítulos.