Quando fiquei sabendo do atentado à Charlie Hebdo, estranhamente me lembrei de um episódio que me aconteceu há uns dois anos.
O andar onde eu trabalhava em Belo Horizonte ia ser reformado. Fomos forçados a nos abrigar temporariamente num outro andar da empresa e a encaixotar tudo que não fosse de uso diário. Um trabalho chato e cansativo.
No processo de encaixotamento já vislumbrávamos que havia muita coisa a ser jogada fora. Em nome da presteza, o momento 5 S foi deixado para depois. Findas duas semanas de dividir mesas e estações de trabalho com pessoas que não queriam e nem tinham a menor obrigação de realmente nos receber, nosso andar ficou pronto e a mudança de volta foi feita.
Descemos nós, nossos computadores, alguns itens de uso diário e as caixas. Muitas caixas. Além de abrí-las e guardar seus conteúdos nos seus novos esconderijos, precisávamos separar o que seria jogado fora e o que seria doado. Nesse processo uma das maiores atribulações era o que fazer com materiais sigilosos que estavam encadernados com espiral. Eu, infelizmente, rapidamente peguei a manha e separava espirais e papéis com facilidade para que o conteúdo realmente delicado pudesse ser triturado. As espirais, sem uso, eram jogadas numa caixa de papelão para depois se avaliar a possibilidade de reciclagem. Não preciso dizer que o trabalho ficou todo pra mim.
Depois de uma tarde inteira de rasgação de papel e retirada de espirais, sentei na minha estação de trabalho e tive uma epifania. Aquela cena, espirais emboladas numa caixa de papelão, daria uma bela escultura.
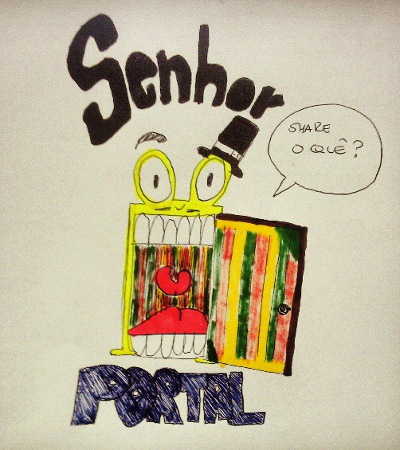
O primeiro estudo conceitual de nossa escultura
Depois de um estudo conceitual, peguei uma das caixas que estava em melhor estado, e, com a ajuda de um estilete, abri na sua lateral uma boca e dois olhos. Deles, como cobras, as espirais saíam criando ligações inexistentes entre o falar e o olhar. Para completar a escultura, diversas bolhas de plástico foram inseridas entre as espirais criando o contraste entre a delicadeza do plástico e do ar e a perigosa ameaça do metal. Nada mal para um fim de expediente no escritório.
Coloquei a escultura em cima de um armário e a esqueci.
Nas semanas seguintes comecei a perceber que as pessoas paravam em frente à minha estação de trabalho e, após conversar um pouco, ficavam olhando de rabo de olho para a escultura. A princípio nada falavam, mas, depois de um tempo, impactadas pela poderosa falta de propósito da arte, o povo não se continha:
– Posso te fazer uma pergunta?
– Claro- eu respondia.
– O que quer dizer isso aí?
Eu olhava para a escultura fazendo uma cara de contemplação, coçava o queixo e provocava:
– Não sei. O que você acha que quer dizer?
A primeira reação de todos era dizer que não sabiam, que eu devia responder pois era eu o responsável por aquilo. Achavam que eu devia saber. Mas eu não sabia. Então, para facilitar a sua vida, e a minha, eu reformulava a pergunta:
– OK, mas o que ela te faz sentir?
As respostas eram as mais variadas. E interessantes. As pessoas usavam aquele momento para questionarem não só seu ambiente, mas a si mesmas. Algumas pessoas passaram a visitar a escultura e utilizá-la como um pretexto para falar o que pensavam do trabalho e o que sentiam mas não tinham espaço para dizer.
Numa segunda feira, cheguei ao trabalho e encontrei um post it colado na escultura onde se lia “quem sou eu?”. Alguns dias depois surgiu um outro, com outra caligrafia, dizendo “quem é você?”. A obra, que tinha nascido comigo, se tornara uma criação coletiva. Colocamos mais balões. Pintamos os lados da caixa. Rearrumamos seus arames. Um dia, mostrando que o processo estava chegando ao seu ápice, apareceu uma coroa de papelão na “cabeça” da escultura e um post it desafiando: “Que rei sou eu?”.
Ela recebeu diversos nomes, mas nenhum oficial. Como uma boa obra de arte, ela se tornou parte do seu ambiente e mais um integrante da comunidade. Ela cumpria um grande papel de liberar todo aquele povo oprimido do escritório e dar-lhes uma breve mas intensa sensação de liberdade. Se não podíamos nos rebelar contra o modelo corporativo-capitalista, ela fazia isso por nós, silenciosa mas explicitamente. Eu devia saber que isso não ia dar certo.
Um dia, o diretor mor da área passou na frente da minha estação de trabalho. Ele passou direto, mas, tendo percebido algo estranho em cima do armário, voltou. Parou em frente à escultura, deixou seus papéis sobre a minha mesa, olhou com atenção para ela por alguns momentos, coçou o queixo, se virou pra mim e perguntou:
– O que é isso?
– É uma obra de arte coletiva que estamos fazendo. Daqui a pouco tá pronta pra mandar pro Inhotim- esclareci.
Ele riu e completou:
– Se rolar dinheiro, separa um pouco pra mim.
Para mim, essa tinha sido a maior vitória. O representante do poder estabelecido tinha não só aceito a crítica que a escultura poderia estar fazendo, mas a ratificou com sua galhofa. Infelizmente nem todo mundo pensava assim.
Na manhã do dia seguinte, cheguei ao trabalho e a escultura tinha sumido. Muito burburinho. O que aconteceu? Será que o diretor mandou jogar fora? Será que foi pro lixo por engano? Pra onde ela foi? O nível de ansiedade gerado pelo seu desaparecimento foi tal que uma das colegas que trabalhava na minha gerência perguntou alto:
– Alguém sabe o que aconteceu com a nossa escultura?
A princípio, o silêncio. Olhamos para as outras baias, em busca de um olhar de culpa. Não encontramos. Apenas olhares curiosos e igualmente preocupados com o sumiço daquele colega de papelão.
– EU JOGUEI FORA- meu gerente de então respondeu levantando a cabeça do seu laptop. Para piorar, completou- Não agregava valor.
Por mais besta que seja, fiquei abalado. Eu tinha sido censurado, para dizer o mínimo. Não, eu não tinha sido censurado. Nós tínhamos sido censurados. A escultura não era só uma declaração de um indivíduo ou de um grupo, mas uma ferramenta que nos ligava e nos qualificava como membros da raça humana. Censurá-la era negar a nossa humanidade. Ela era uma de nós ao mesmo tempo que era todos nós. Ela nos dava a qualidade de sermos diferentes. De quem? Daqueles que a destruíram.
Após a raiva inicial, entendi o que se deu. O tal gerente ficou incomodado pois não estava preparado para se sentir questionado. A sua “certeza” sobre si e sobre o mundo não podia ser abalada. Ele, exatamente como agiram os terroristas em Charlie, exercia o medo sobre os outros porque não conseguia conviver com o enorme medo que ele mesmo sentia. A escultura todo dia perguntava a ele “Quem é você?”; fazia ele se perguntar “Quem sou eu?”; e finalmente questionava a sua realidade e a “realeza” da sua identidade com a questão final “Que rei sou eu?”. Em momento algum ela dava respostas. Nem as que ele podia concordar com, nem aquelas que podia ignorar por serem diferente das dele. Ela o questionava. Sem perdão ou pudor. E não há maior crime do que esse.
Quando penso no que aconteceu com o pessoal da Charlie Hebdo, penso nisso. Guardadas as devidas proporções, é óbvio, eles também foram vítimas de censura. Uma censura mortal. Uma censura nascida de um medo tão grande de ser questionado que só podia ser completa com a morte do outro que lhe fazia se questionar.
O que fica claro pra mim frente a esses eventos é que estamos vivendo num mundo tão cheio de respostas fáceis e falhas que qualquer pergunta se torna uma afronta fatal. A humanidade simplesmente não se mostra pronta para conviver com a ambiguidade da sua própria identidade. Não conseguimos aceitar a pergunta “Quem sou eu?” e sorrir por não ter como responder. E assim, desprovidos de autocrítica, não aceitamos quem nos faz pensar. E quando forçados a isso, os censuramos. E, se não conseguimos censurá-los, tiramos seus bens, seus empregos, jogamos seu nome na lama, os ameaçamos, os processamos, e, se nada funcionar, os matamos.
E quando falo isso, não me refiro apenas aos grupos extremistas cristãos, aos terroristas e demais radicais ortodoxos. Falo de mim, de você e de todos nós que agimos com tanto afinco e presteza quando procuramos nos proteger daquilo que ameaça a idéia que temos de nós mesmos. Como seria bom se tivéssemos tanta habilidade para ouvir uns aos outros sem julgamento ou defesa.
É por isso que a liberdade de expressão é um direito tão fundamental que tantas vezes se confunde com o próprio direito à vida. Contudo, é importante lembrar, a liberdade de expressão não é simplesmente deixar o outro falar o que quiser e fazer ouvidos de mercador. Ignorar o que o outro fala não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um acordo entre emissor e receptor. É estar livre para ouvir o que o outro tem a dizer e mudar de opinião. Ou não. É estabelecer relações com os outros membros da raça humana e se unir a eles ou decidir se diferenciar. Sem stress. É saber que nada é real, que tudo é construído e, quando não concordarmos com outros, podemos seguir o conselho sábio do Dude e dizer:
Essa foi a minha opinião. E você? Qual é a sua?