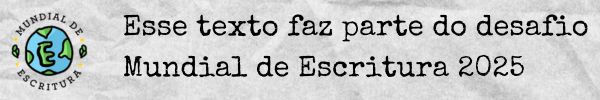Um livro pode ser muitas coisas. Quanto ao seu formato, ele pode ser físico, em áudio, ou digital. Em relação ao seu objetivo, ele pode ser uma fonte de informação, uma ferramenta de aprendizado, um parceiro de diálogo e reflexão, ou uma porta para uma outra realidade, que nos promete diversão ou entretenimento. Se considerarmos o seu papel dentro do mercado editorial ele pode ser um projeto, um produto de um projeto, ou mesmo um investimento dentro de um catálogo, com o qual buscamos atingir resultados financeiros, artísticos, culturais ou sociais. Mas, em todas essas suas encarnações e pluralidades, uma coisa todos os livros serão: arriscados.
O livro, seja como produto, como projeto, ou como investimento, é arriscado. Ele é uma ideia que, ao ser planejada, executada, e distribuída ao seu público, por toda uma complexa cadeia de valor, toma concretude, mesmo quando digital, e corre diversos riscos que podem impedi-lo, ou não, de atingir os objetivos aos quais ele se propõe em sua concepção. Ser arriscado não quer dizer que ele é mais afeito ao fracasso ou ao sucesso, mas que há pouca certeza quanto aos eventos que irão ocorrer ao seu redor que poderão impactar positiva ou negativamente os seus resultados. E, dadas as informações do mercado, ele não é só sujeito a muitos riscos, ele é arriscadíssimo.
Quando olhamos para as pesquisas sobre o mercado editorial, tanto no Brasil como no exterior, as notícias nunca parecem boas. Sempre temos sinais de retração, com o fechamento de pontos de vendas, concentração de resultados em poucos livros, gêneros, editoras e vendedores, e, inclusive, dados, nem sempre confiáveis, que indicam que a grande maioria dos títulos não consegue passar a barreira de mil volumes vendidos. Isso faz com que o faturamento das editoras se concentre em alguns títulos de destaque e no retorno contínuo de alguns livros de catálogo que financiam toda uma operação que aparenta sempre estar só um pouco acima do que a constituiria como um investimento de retorno baixo demais para valer a pena. Tudo isso constitui o livro como um investimento arriscado, tanto nos critérios “artísticos” ou culturais, quanto nos financeiros e econômicos. Assim, viveríamos, como bem colocado por Ênio Silveira, fundador da editora Civilização Brasileira, entre o feijão e o sonho:
O editor, que se preze como tal, vive sempre oscilando entre dois polos, bem caracterizados pelo livro de Orígenes Lessa, O Feijão e o Sonho. Se ele se dedica só ao feijão, ele não é bom editor. E se ele se dedica só ao sonho, ele quebra a cara muito rapidamente, numa sociedade capitalista ele está fadado ao insucesso. O contraponto feijão/sonho é que dá a justa medida da qualidade de um editor – (da Coleção Editando o editor, n.3)
Porém, mesmo com esses flagrantes riscos envolvidos na nossa atividade, quando vamos nos debruçar sobre como os livros, enquanto projetos ou produtos, são geridos, ou mesmo sobre o retorno do investimento realizado por todos os integrantes dessa cadeia de valor, os dados disponíveis são poucos, pouco claros, pouco conclusivos, e, em alguns casos, completamente inexistentes.
Se o mercado do livro é um mercado tão arriscado por que razão não temos estratégias ou ferramentas específicas para lidar com esses riscos? Será que o livro enquanto uma “não-commodity” impede que tenhamos estratégias genéricas ou comuns que se apliquem a todos os lançamentos ou produtos de catálogo? Ou será que o baixo retorno esperado do livro enquanto investimento não compensa o gasto com estratégias mais robustas de gestão de risco que, além de poderem ter pouco impacto, irão encarecer ainda mais o produto final?
Mesmo que o mercado editorial se apresente como uma indústria de baixo retorno sobre o investimento, sempre vítima de um conflito entre o atingimento dos seus nobres objetivos de promoção cultural e intelectual, e sua sustentabilidade financeira, a importância do livro como símbolo e ponto central do nosso processo civilizatório pede insistentemente que a gestão dos seus riscos seja aprimorada a fim de aumentar as possibilidades de sucesso dos seus empreendimentos individuais e do próprio setor como um todo.
Para começar a endereçar esse dilema, é preciso estabelecer uma conversa com os diversos setores envolvidos com o livro, para buscar entender como os seus riscos, enquanto produto, projeto e investimento, são considerados, gerenciados, mitigados, eliminados, absorvidos e remediados no processo de gestão editorial. Só a partir do entendimento do conceito de risco para aqueles que fazem do livro a nossa profissão, poderemos encontrar, através de uma adequada gestão dos riscos, o equilíbrio entre o capital simbólico e financeiro do livro, e permitir que de alguma forma possamos fazer as pazes entre o feijão e o sonho que alimentam e sustentam o nosso propósito de vida.