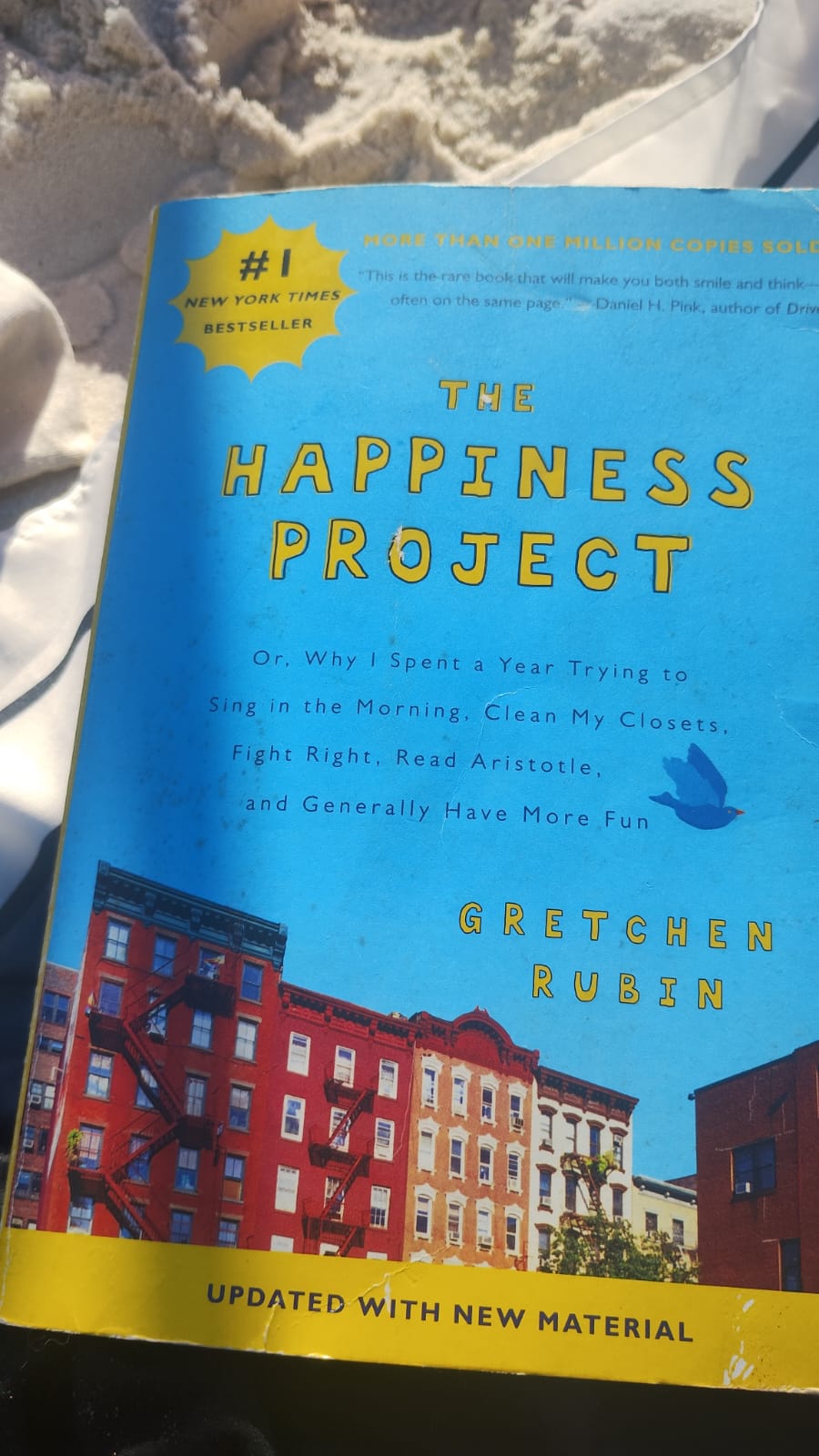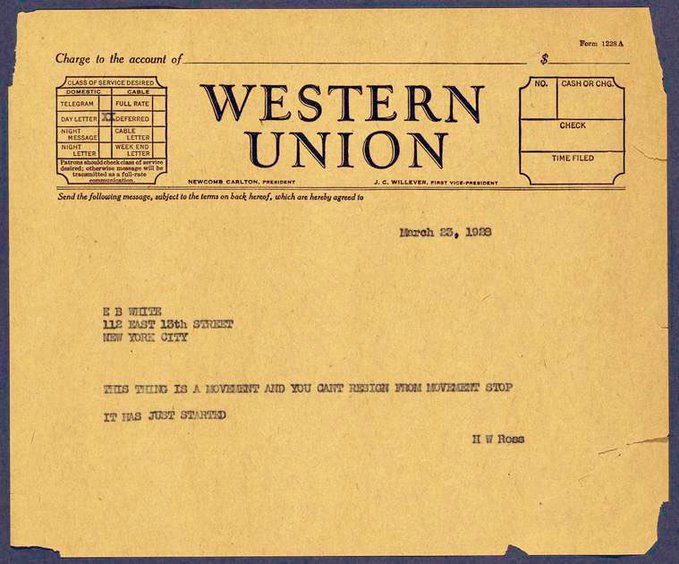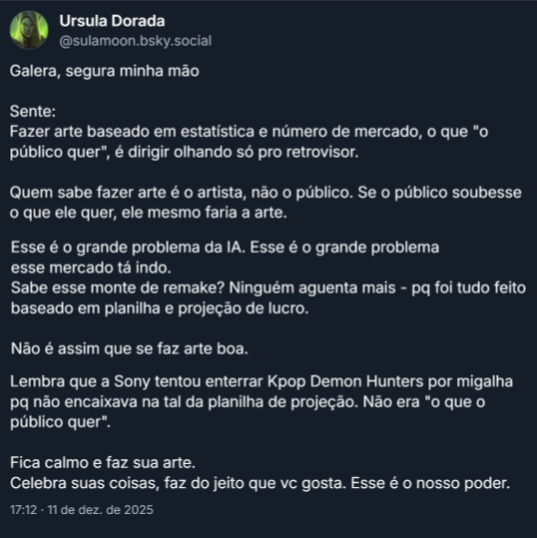Desculpa avisar, gente, mas o romantismo morreu. Sim, os aspectos de ingenuidade e paixão que ligávamos ao amor, desde os exageros mórbidos do ultrarromantismo até romances água com açúcar que caracterizaram o gênero por décadas e séculos, não passam mais pelo nosso teste de suspensão de realidade. Porém isso não quer dizer que não possamos ter excelentes obras que falem sobre o amor.
Amor e romantismo, é importante lembrar, não são sinônimos. Nós simplesmente encaixávamos tudo dentro de um mesmo gênero em prateleiras de livrarias, videolocadoras, serviços de streamings, e lojas virtuais, e passamos a acreditar que essa relação de proximidade era de identidade. Não, não é.
Por mais que o romance tradicional hoje possa parecer datado e seus tropos não façam mais sentido (afinal, quem ainda acredita, além da Glória Perez, em amor impossível ou “proibido”?), as histórias sobre amor, inclusive as comédias, continuam não só relevantes, como super atuais e necessárias.
Ontem encarei uma sessão dupla de comédias românti… quer dizer, de amor, que provam esse meu ponto.

A primeira foi a comédia espanhola Volveréis. O filme conta a história de um casal madrileno em processo de separação, saudável e amigável, eles não cansam de nos lembrar, que, seguindo uma ideia ao mesmo tempo estapafúrdia e sedutora do pai da moça, resolvem fazer uma festa de fim de relacionamento. Enquanto os preparativos da festa e os avisos de separação a amigos e familiares rolam, o quase ex casal tenta organizadamente tratar das partes práticas dos começos das suas novas vidas de solteirice. Em momento algum da história se discute a razão do fim do relacionamento, nem vemos qualquer animosidade realmente marcante entre eles. A relação parece apenas ter se esgotado. Talvez por isso, os amigos e familiares não aceitem tão bem esse fim quanto o casal aparenta aceitar, e propõem constantes questionamentos que eles evitam responder. O humor da situação vem justamente do pragmatismo do casal e da performance do fim maduro e equilibrado do relacionamento que é exacerbada pelo filme dentro do filme, estrelado pelo namorado e dirigido pela namorada que adentra a narrativa “real” do casal.

“Sim, estamos estamos nos separando, mas estamos ótimos”
O segundo foi Follamente, em português, O Primeiro Encontro, um filme italiano sobre, conseguem adivinhar?, o primeiro encontro de um possível futuro casal, num sábado à noite, durante uma final de futebol, para um jantar romântico(?) na casa da mulher. Apesar de estarem sozinhos em cena por quase todo o filme, as vozes em suas cabeças, quatro para cada um, representando diferentes aspectos de suas personalidades (o sexual; o racional; o romântico, olha quem apareceu por aqui; e o desequilibrado) discutem impelindo ou impedindo as suas ações. Além disso, em seu refúgio, o encontro também é invadido pelas vidas pregressas dos, torcemos, futuros namorados na figura de filhos e antigos relacionamentos fracassados. Apesar do protagonismo dos diálogos internos, aos poucos, a comunicação direta entre eles começa a acontecer, permitindo até que essas facetas de suas personalidades saiam de suas cabeças para falarem umas com as outras.

O diretor cercado pelas vozes das cabeças das protagonistas
Além de serem excelentes comédias muito atuais e realistas, dentro de toda a fantasia que propõem, os filmes ainda carregam uma outra similaridade: tratam o amor como um trabalho de construção. Seja no trabalho social e emocional do fim do relacionamento, como no trabalho psicológico e de autoanálise do seu início, ambos os filmes e casais explicitam que, mais do que paixões avassaladoras, os amores ou, se preferir, romances precisam de esforço, dedicação e delicadeza para funcionar ou, ao menos, existir.
Para quem já tinha achado que o amor era um fotograma fora dos cinemas, desde Como Perder um Homem em 10 Dias, a execrável comédia romântica(?) que transformou o amor num job precarizado, ver essas histórias em que se relacionar é, sim, um trabalho, mas um trabalho de amor, dá até um quentinho no coração. Quem diria que no final de 2025 poderíamos voltar a ter esperança no amor cinematográfico?