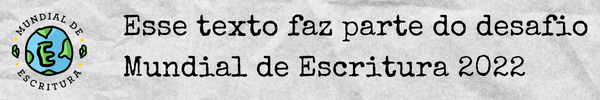Arnaldo, apesar de despachado com os amigos, socialmente era um homem de pudores. Por exemplo, ele nunca comprava papel higiênico no pico de movimento do supermercado.
– Porra, Arnaldo, vai comprar papel. Tá pra acabar- Flavinha dizia.
– Relaxa. Pra hoje tem. Vou amanhã.
– Que diabo de frescura é essa, homem?
– Porra, Flávia. Só não quero que o pessoal lembre que eu cago.
– Arnaldo, cá entre nós, todo mundo caga.
– Eu sei. Eu sei. Só não quero que pensem em mim cagando.
Arnaldo tinha uma certa razão. Não era nada interessante pensar num homem peludo, de quase 2 metros e por volta de 150 quilos cagando.
Por outro lado, cagar era uma das atividades que aparentemente lhe davam mais prazer. Em casa, onde podia ser ele mesmo, longe dos olhares e da reprovação da sociedade, ele se entregava a esse amor por inteiro. Logo depois de terminar uma longa e variada refeição, ele acendia um cigarro, batia na barriga e dizia:
– Agora vou ao trono para coroar essa refeição digna de um rei.
No trabalho, ele também sentia o prazer de evacuar, mas tentava ser mais discreto. Ia no banheiro perto da Copa, que tinha menos movimento, e, ao terminar seus afazeres, batia na barriga e murmurava:
– Não é todo dia que a gente dá uma cagada dessas. Não é todo dia.
Mas era todo dia. E quase toda hora.
Enquanto Flávia sofria de uma bruta prisão de ventre que a deixava literal e figurativamente enfezada, Arnaldo, como um relógio, visitava o banheiro para, segundo ele, “Fechar o ciclo da vida”.
Um dia, a Flávia percebeu que havia algo estranho e perguntou:
– Você foi ao banheiro hoje, Arnaldo?
Arnaldo fez um esforço, mas não lembrava se tinha ido ao banheiro ou não. Quase sem acreditar foi checar o livro que lia quando estava cagando e, sim, ele não tinha mudado de página desde o dia anterior.
– Estranho- murmurou.
O dia seguinte a mesma coisa. Nada de vontade de ir ao banheiro. Flávia até perguntou se ele estava sentindo alguma dor, mas ele não sentia nada.
– É como se estivesse indo normalmente. Normalmente.
Ele até fez um esforço, mas nada saía. No quinto dia sem cagar, ele foi ao médico.
– Calma, amigo. Tem gente que vai pouco mesmo.
– Eu não sou esse tipo de gente. Eu vou sempre.
– Mudou algo na sua alimentação?
– Não.
– Mudança em atividade física?
– Também não.
– Tá bom. Vou pedir uns exames, mas tenho certeza que não é nada de mais.
O médico estava errado.
No exame de sangue deu uma diferença na quantidade de glóbulos vermelhos e no tamanho das hemácias e leucócitos, o que podia ser um indicativo de células atípicas e imaturas circulando no sangue. Ou seja, câncer.
Arnaldo, continuou sem cagar, e fez os exames complementares que vieram a confirmar que estava com a doença maldita.
A comoção entre todos nós foi grande, mas Arnaldo parecia inabalável. Um dia, num momento de vulnerabilidade, ele nos confidenciou a única coisa que lhe incomodava:
– Sabe? Nem tenho medo de morrer, mas, pode crer, sinto uma bruta saudade de cagar.
Eventualmente, com o início do tratamento, ele voltou a evacuar, mas, segundo ele, não era a mesma coisa:
– Sabe? O prazer foi embora. Quando o intestino quer matar o hospedeiro, cagar vira só uma função.
O primeiro tratamento terminou, mas não foi bem sucedido. Enfim os médicos resolveram agir de forma mais agressiva e decidiram tirar logo a parte mais impactada do seu intestino. Arnaldo recebeu a notícia estoicamente, mas Flávia, na vésperas da cirurgia, vez ou outra o via acariciando a barriga e murmurando:
– Saudades dos nossos rolês, amigo. Saudades.
Ele foi operado. O câncer parecia controlado, mas a rotina da bolsa de colostomia foi demais pra ele e Arnaldo entrou numa puta depressão. Apesar de aparentemente curado, ele foi definhando lentamente e de repente seu coração simplesmente parou. Quase como se a vontade de viver tivesse lhe abandonado.
No velório, todos confortamos Flávia, mas ela estava estranhamente de bom humor compartilhando várias histórias de idas clássicas de Arnaldo ao banheiro.
– Viver com Arnaldo era ótimo, mas todas as suas histórias eram de merda. Literalmente- ela encerrava mais um causo e ria.
Enquanto todos processávamos o luto de Arnaldo, o pudor que ele tinha foi totalmente pro espaço. Sua vida privada, na privada, tinha se tornado pública e tudo em que conseguíamos pensar era nele, no Arnaldo, cagando.
É a vida tem dessas coisas. Às vezes as coisas que mais te dão prazer são aquelas que acabam te
levando pra cova. Fazer o que? Nem todas as histórias que vivemos tem finais edificantes ou, mesmo, cheiram bem. Saudades das merdas do Arnaldo. Saudades.